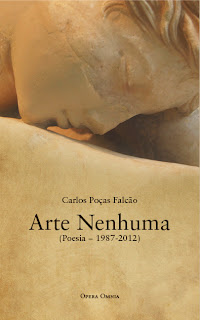Reunir Poesia
No universo da literatura a poesia, dizem, é sempre
outra coisa. De facto é. Pessoal, boa, má, funciona, não funciona. É para uso
pessoal de quem escreve e de quem lê. Há quem nunca a descubra, quem não se
sinta por ela tocado. Não sentimos todos a falta das mesmas coisas. Mas algures
dentro de um livro de poesia há janelas, emoções, construções mentais. Mais que
o dito é a arquitectura das palavras que conta. A Poesia é mais música que
qualquer outra arte. Por isso mesmo que não abra mão do silêncio pede voz. E é
como o amor, exige sempre dois envolvidos no mesmo ritmo e no mesmo tempo; por vezes
toca mais a alma, outras o corpo e acontece em casos raros extraordinários arrebatar
ambos, na singular conjugação das estrelas que é a arte dos poetas.
Ousar falar de poesia é um risco. Poucos entendem o parar
a vida para nos encantarmos por um poema que nos rasga uma janela na escuridão de
um quarto escuro.
A poesia existe para que alguém respire acima da linha
de água. Mesmo que para isso tenha sido preciso ao poeta mergulhar nas mais obscuras
profundezas dos pântanos ou ter a ventura de voar sobre as mais altas nuvens.
Poesia reunida, poesia toda. Poesia apenas. Uma vida
escrita, vista e revista nos poemas que são de novo embrulhados para oferta aos
saudosistas ou aos que a descobrem agora, pela vez primeira vez. Um livro de poesia
reunida é um balanço de vida, uma espécie de biografia holística. Neste ano que
agora termina editaram-se algumas.
Todas as Palavras
poesia reunida
Manuel António Pina
Assírio e Alvim, 2012
Todas
as palavras de Manuel António Pina já foram ditas e escritas. Já não resta
sequer um sábio fechado na sua biblioteca, apenas a biblioteca, os
livros, as páginas, os poemas.
A biblioteca
"O que
não pode ser dito/guarda um silêncio/feito de
primeiras palavras/ diante do poema, que chega sempre demasiadamente tarde,//quando
já a incerteza/ e o medo se consomem/em metros alexandrinos./Na
biblioteca, em cada livro,// em cada página sobre si/recolhida, às horas mortas
em que/a casa se recolheu também/virada para o lado de dentro,//as palavras dormem
talvez,/sílaba a sílaba,/o sono cego que dormiram as coisas/antes da chegada
dos deuses.//Aí, onde não alcançam nem o poeta/nem a leitura,/o poema está só./E,
incapaz de suportar sozinho a vida, canta.//”
Manuel António Pina
Poesia Reunida
Maria do rosário Pedreira
Quetzal, 2012
Gostei muito de ouvir a Maria do Rosário Pedreira
aquando da apresentação deste livro na Livraria Arquivo, em Leiria. Recomendo a
todos. Esta Poesia Reunida aguarda leitura detalhada e vai durar Verões e Invernos.
Os seus poemas são sempre de amor, o
sentimento que melhor justifica a vida mesmo quando antecipa a morte, como
sombra que permite atender a luz da vida, são como se tecidos sobre o corpo, uma
segunda pele, vivem como árvores resistindo e mudando lenta e amorosamente no
passar das estações.
“Vamos ser velhos ao
sol nos degraus/da casa; abrir a porta
empenada de/tantos invernos e ver o frio soçobrar//no carvão das ruas;
espreitar a horta/que o vizinho anda a tricotar e o vento/lhe desmancha de
pirraça; deixar a//chaleira negra em redor do fogão para/um chá que nunca sabemos
quando/será — porque a vida dos velhos é curta,/mas imensa; dizer as mesmas coisas/muitas vezes por sermos velhos e por/
serem verdade. Eu não quero ser velha//sozinha, mesmo ao sol, nem quero que/sejas velho com mais ninguém. Vamos/ser velhos juntos nos degraus da casa —// se a chaleira apitar, sossega, vou lá eu; não/atravesses a rua por uma sombra
amiga,/ trago-te o chá e um chapéu quando voltar.//”
Maria do Rosário Pedreira
Poesia
José Fanha
Lápis de Memórias, 2012
O livro de Poesia de José Fanha é uma edição da editora
Lápis de Memórias, de Coimbra. É de um campanheiro destas viagens leitoras mas não vou falar sobre ele, ainda
aguardo com expectativa a sua integral leitura. Apresentado há dias numa livraria de
Coimbra que tem o mesmo nome da editora, Lápis de Memórias, traz muitos dos poemas
que todos conhecem mas faziam parte de edições há muito tempo esgotadas e também
muitos inéditos. Gosto muito do que conheço. A sua poesia é uma voz de razão,
emoção e corpo inteiro. Cinco centenas de páginas que percorrem quarenta anos
de escrita poética e de vida que a partir de agora vão andar por aí.
A Metáfora
"Encontro o
Mestre e digo-lhe que há poetas/que recusam a metáfora/ e o Mestre sorri./A metáfora é apenas a metáfora/diz
ele/e não vale a pena ser a favor nem contra a metáfora/nem a favor nem contra
seja o que for.//As coisas são e não são/à margem/dos poetas com assento/em casas de
comércio/diz o Mestre/enquanto almoça.//A realidade vale exactamente o que vale
o nosso olhar./A realidade é um peixe/o peixe nosso de cada poema./E o poeta é
uma criança que segue pelos caminhos/ com bolas etéreas/a subir no ar.//O poeta é um
menino com olhos/de menino e uma dor/ muito funda no seu peito de menino./O poeta
atravessa os pátios da infância/ e vai feliz//dizendo que as breves
metáforas que lança ao ar/são apenas planetas de sabão a explodir/sucessivamente//sobre
a cabeça do mundo.//
José Fanha
Arte Nenhuma
Carlos Poças Falcão
Opera Omnia, 2012
E por fim este “Arte Nenhuma”, também
recente, que encontrei na Centésima Página, em Braga, uma livraria onde os
livros de poesia têm um espaço maior que o residual habitual em outros espaços e
um tempo de existir para lá do vertiginoso chega-logo-desaparece das livrarias.
É uma edição da OperaOmnia, uma editora de Guimarães, onde vive o seu autor, Carlos
Poças Falcão, que conheci num tempo já longínquo, numa época em que Guimarães
estava longe de ser capital mas era cidade de cultura. Ao folhear o livro
relembrei o Convívio, acho que ainda resiste no Toural, os primeiros passos do
festival de Jazz… E o que nenhum de nós sabia, há vinte e cinco anos que é o tempo deste livro, o que a vida traria a uns e outros. Muito menos que a morte,
coisa estranha e distante, atropelaria amigos comuns.
Refiro o conhecimento factual do
autor pois me faria, em qualquer circunstância reparar num livro seu. Mas não
me obrigaria a falar dele, faço-o porque me surpreendeu, sem espanto, a solidez
do seu percurso.
Começou a escrever em 1987 com “Número
Perfeito”, foi professor depois de largar uma breve e excruciante experiência
na advogacia, abraçou um projecto editorial, a Pedra Formosa, e a poesia foi
acontecendo. Vinte e cinco anos depois encontro-a mais sofrida mas menos
angulosa. O tempo adoçou-o embora continue a preferir o crescimento dos
cristais como metáfora do enovelamento dos afectos. Desde a saída do último livro que li dele, “Invisivel simples”, em 1988, que não
nos cruzamos. Este livro foi um reencontro. Tal como o esperado as palavras são buriladas mas não é apenas um exercício de palavras há pensamento,
reflexão. Não é um livro fácil, nem áspero, é sério e profundo. Creio que
nenhum exigente leitor de poesia sairá defraudado.
Arte Nenhuma
"Por arte nenhuma, murmuração, momentos/de não saber cair, o
poeta é quase nada./Atravessa a rua, sobe a escada, ao abrir a porta/está
mudado: é um batimento estranho,/o coração antigo, toda a aprendizagem/semelhante
a uma ruína. Espera ficar árido/até apanhar luz, assim como um deserto,/um poço
para a voz, a espelhar ao fundo./Depois abre a janela, está vazio, pronto/a
mudar de vez: porque esse é o poema,/a respiração a negro na frequência exacta/de
uma espécie de onda, alísea, não criada.//”
Os poetas são resistentes marginais mesmo quando estão por dentro. São pessoas desconfortadas. Podem louvar ou odiar a humanidade, ser
laureados ou proscritos. Amam uma pessoa ou muitas, cada uma na sua singularidade
de ser e género. Mas num lugar qualquer um poeta luta sozinho com o branco onde
inscreve as palavras por razões e necessidades que nem quem os ama pode
atender.
No “Pequeno livro azul”, dedicado a sua mulher, a
Mizé, que morreu no ano passado, dá a sua voz à dela, afunda-se na dor de quem
sofre, omitindo a sua própria ao ver morrer a mulher amada. Vemos o pequeno e
limitado mundo do quarto do hospital pelos olhos dela, de forma crua e delicada
faz-nos sentir impossibilidade, dor, lucidez,
abandono e fúria a agarrar a vida. O
sofrimento na sua esperança e desesperança. Não é um capítulo para mentes
sensíveis. A dor cada uma a toma como é capaz de melhor a suportar: a breves
tragos ou toda de uma vez.
“Olhar o tecto/respirar baixinho/Estar nas mãos de Deus//”
(…)
“o corpo, pobre corpo/esta choupana/e uma luz lá dentro/que o ama/que o ama//”
Arte Nenhuma é uma antologia encorpada na sua essência,
nos sentimentos que guarda nos duelos mentais que constroem os poemas. Sendo
que os livros são também o que deles dizemos, falta-me a mim arte para falar
dele, dela, a poesia, que é melhor lida que em tentativa explicada ou
justificada. Mas eu posso dizer o que me aprouver neste canto, humilde espaço
de leitores (in)comuns.
O diálogo com deus é um diálogo aberto no qual podemos retomar as perguntas
e quem sabe deus nos responda perguntas para buscarmos outras e quem sabe um dia chegar a algumas poucas respostas.
(…)
“Sei que não devo perguntar. Mas gostaria de entender porque tem de ser
assim. Nada/ devo perguntar, pois a resposta é sempre uma outra torrente de
sinais- e o coração/ confunde-se e a inteligência fica dividida.//”
(…)
“Deus dava uma pancada na coxa com a
Sua larga mão./ E eu ficava sem saber o que fazer. Para que são estes sinais/Intensos?
Apetecia-me chorar, pois não estava á altura das/ revelações. E desejava
estancar o tempo, que é por onde/Deus lança os seus sinais//”
Há, desde o início com “O Número Perfeito” uma força no mistério telúrico
das palavras que se prolonga e acentua nas criações mais recentes.
“As pedras têm uma forma própria de ir cavando a terra,/à força de
humidade, aconchegando as larvas e pesando,/pesando sempre. Um dia alguém
levanta uma e há um rede-/moinho nesse nicho que lentamente se afundava.//”
(…)
“Assim também as casas. Se alguém levanta uma, pode/encontrar ossadas, ou a
antiga mancha das adegas e os ratos/ficarão assustados pela súbita ausência de
peso.//”
E há a arte de fazer haikus, com o rigor de um perfumista que se nota a
cada gota, no Coração Alcantilado.
“Não te envaideças tanto, ó flor!/Olha à tua volta:/Primavera!//”
(…)
“Exige todo o sol/e o mês de Maio longo/uma cereja!//”
Na poesia do Poças Falcão o lugar dos afectos tem
forma despojada mas profunda. Há uma tentativa de busca de perenidade nos
fenómenos cíclicos da natureza, na lentidão geológica das pedras. Uma contenção
de palavras que nos leva a perguntar mais uma vez e outra dentro de cada um. No
princípio parecia regida por leis mais abstractas e geométricas agora persegue outras mais flexíveis que regem o
ser. Há agora um lado mais concreto a par da abstracção. Há uma lamentação nas
coisas imperfeitas, como se amassem, como se recordassem. Tudo pede um deus e o
encontro com ele é um exercício solitário de confronto com um criador sábio que
se diverte como um pai a deixar que o filho descubra o caminho, sabendo-o sempre
em aberto na descoberta. Há na imperfeição maceração de terra e criaturas, alimento para a vida, medições
de temperaturas…Auscultação dos arenitos, restos de chuva, erosões gravadas. A
busca na natureza, nos elementos, nos tempos geológicos da segurança que nos
foge na nossa humanidade.
(…)Somos líquidos/amamos a fragmentação, a incansável/desordem da matéria.
Com a pequena voz /enfrentamos o tempo, com a brancura/de uma subtil lenta
paixão. Ao unirmos/separamos. Intuímos uma funda duração/um denso envolvimento,
uma gravitação.//”
Vinte e cinco anos. “Arte Nenhuma”, o próprio título metáfora da própria
poesia. Arte Nenhuma a ela se compara.
“Agora outra vez a caminhar/Atraso de propósito o bater de vários ritmos/Não
estou contra/não vou contra/apenas subo um pouco/ e desacelero/Assim vou
desdobrando/um fio de oração sobre a cidade/Depois dos triunfos/e das pequenas
mortes/é só pela humildade (a terra da alegria)/que posso regressar//”
No ano que se segue todos vão fazer
listas rigorosas de coisas úteis versus outras ainda mais rigorosas de coisas dispensáveis.
Acrescentem a essa primeira lista, por favor, um ou outro livro de poesia. Antes
isso que medicamentos, mesmo que esses contribuam mais para a economia, para a
reabilitação do mercado. Antes a poesia. Os medicamentos têm contra-indicações
e a economia, caros leitores, foi um brinquedo na mão de iletrados que não se
deram conta a tempo que eram humanos os números das suas equações. Antes a
poesia que é ela própria a expressão máxima de nossa humanidade. Uma luz segura
na noite que atravessamos, iluminando cada um segundo o seu caminho. Um mundo
de perguntas, de buscas e de lutas. Não há sombras a não ser nos nossos olhos. Dizer
tanto do poder de um livro pode parecer excessivo. Mas por vezes um singular
poema tem esse poder. A poesia que se publica bastante, vende pouco e muito se
perde por aí nunca será um fenómeno de massas. Nunca pesará no PIB. É inútil e absolutamente
necessária para tecer os dias.