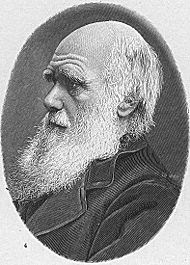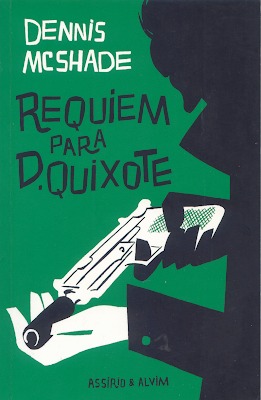Há anos, há muitos anos, descobri num alfarrabista do Porto um livro que recolhe muita da produção poética de soldados, de oficiais, de sargentos portugueses que combateram em França durante a Primeira Grande Guerra (1914-1918). Poesias, dezenas de poesias, que vão de 1917 a 1918, os anos de permanência do exército português em França , A obra, que se intitula "Arquivo Poético da Grande Guerra", foi organizada por Almeida Russo, "tenente miliciano de artilharia", e foi publicada no Porto, em data não mencionada, mas que não deve ultrapassar os inícios dos anos vinte. Nela se incluem poemas de valia e de estilos muito diferentes, todos subordinados a uma mesma grande temática: a guerra. A guerra e os pensamentos, os sentimentos de quem nela participa (e vê a morte em cada granada de morteiro que lhe cai na trincheira). A morte, o perigo, o medo, a coragem, a saudade, a esperança, atravessam as páginas deste cancioneiro de soldados que mal sabem escrever, de jovens oficiais com arrebiques de cultura de salão. Textos escritos na lama das trincheiras ou nas tarimbas dos campos-prisão alemães. Campos repletos de oficiais apanhados na derrocada do 9 de Abril de 1918, em La Lys. Entre eles, Hernâni Cidade, com os sonetos Pátria Gloriosa e Pátria Dolorora (será Dolorosa?).
De tudo o que li, quero fazer sobressair dois poemas. O primeiro, de autor não mencionado, intitula-se "Oração" e foi escrito no campo-prisão de Breesen in Mecklemburg, e constitui um dos relatos mais fidedignos da batalha de La Lys (o maior desastre militar português depois de Alcácer-Quibir). Descrição cuidada, de quem tem algum domínio da arte poética, descrição em tudo coincidente com os relatos feitos posteriormente por quem lá esteve. Entre eles, Hernâni Cidade, futuro professor da Faculdade de Letras de Lisboa e figura grande da literatura e da cultura portuguesas de meados do século XX. O poema divide-se em três partes: na 1ª, canta-se a mansidão da natureza nesse amanhecer do dia 9 de Abril; na 2ª, o fragor, a loucura da batalha; a 3ª parte fala-nos do silêncio que regressa ao campo de batalha, agora coberto de mortos e feridos. Uma autêntica sinfonia à Prokofiev, em filme de Eisenstein.
A ilustrar o que acabo de dizer, transcrevo as primeiras estrofes:
Já rompia a madrugada,
Nem um só tiro se ouvia;
Par'cia a guerra acabada,
Bem-dita Virgem Maria!
***
De repente, sobre as linhas
Começa a nevoa a trepar;
- Adeus homens e casinhas,
Já não vos posso enxergar.
Na segunda parte, sobressaem versos como os que se seguem:
Nisto o silencio findou
Naquela imensa fornalha:
Passava, correndo, a metralha.
- Senhor Deus, onde é que estou?
***
Chovem balas e granadas;
Fusilaria tremenda;
No ar há clarões de fogo;
Não há ninguém que se entenda.
***
O silencio da vida há pouco
É agora gritaria…
Cada homem é um louco...
Valha-nos Santa-Maria!...
***
Os valados levam sangue...
Já cheira a carne queimada...
Ai que medonho festim!...
Que medonha madrugada!...
***
Gemidos, profundos ais,
Vinham numa voz geral.
- Pobres noivos, tristes pais.
Ai! Portugal, Portugal!...
A terceira e última parte dá-nos testemunho da derrocada das nossas tropas e da carnificina que se lhe seguiu. Portanto, da nossa Derrota, da Vitória da Morte:
Rapaziada, gente môça,
Quasi toda ali morreu;
Mas todos morreram nobres:
Desde o fidalgo ao plebeu!
Dobra, dobra coração!
Dobra num sino dorido!
Vai dizer a cada mãe
Que tem o filho perdido!
***
«Ai minha mãe, minha mãe,
Que morremos sem ninguém»
E a morte passava e via.
- Padre Nosso, Ave Maria!...
Sim, uma oração, mas também um hino à tragédia de um povo que não tem nas veias a vocação da belicidade...
Para além de constituir um documento histórico de valor, este "Arquivo" também nos dá a dimensão humana dos que combateram na Grande Guerra. Nomeadamente do soldado saído da sua aldeia para ir bater-se nas planícies do leste da França, terra que nada lhe diz, habitada por gentes estranhas, de falas arrevesadas. E entre os "poetas soldados", como lhes chama o organizador da colectânea, avulta Américo Mendes de Vasconcelos, "O Palhaes", do Regimento de Infantaria 13, de Vila Real, morto na linha da frente, em La Gorgue. Poemas eivados de ironia, de humor, de dramaticidade, de crítica social e auto-análise psicológica, a constituírem um dos textos mais impressionantes desta antologia. O poema inicia-se com a descrição da partida do seu regimento de Vila Real, a viagem até à estação da Régua, desta ao Porto e daqui para Lisboa, onde embarcam no navio que os há-de levar até França, o local onde os esperam todos os combates.
Na transcrição de excertos, que a seguir se faz, guarda-se a grafia da escrita original, o que permite ver algumas das dificuldades ortográficas de "O Palhaes", que em nada desvalorizam o texto, antes, pelo contrário, lhe confere força da autenticidade. O poema inicia-se com o lamento do soldado que tem de partir para a guerra, mas rapidamente adquire uma tonalidade muito própria, na qual se expressa um finíssimo sentido de humor, em que nada, ou ninguém é poupado – nem o próprio:
No dia 21 de Abril
Grandes casos presenciei:
Partiu o 13 para França...
Eu muitas lagrimas chorei.
Às 10 horas da manhã
Tocou a deitar correias.
- Foi um toque que me fez
Até perder as ideias.
***
Chegámos á estação...
Só se ouviam gritos e choros
- Choravam as mães por os filhos,
As cachopas pelos namôros.
***
Pois dali até á Régua
Só se via gente chorando,
Dizendo adeus aos seus filhos
Com alvos lenços voando.
Então na Regua é que vi...
- Fiquei meio maribundo.
Só se ouvia gritar...
- Até parecia o fim do mundo.
***
Desembarcamos em Lisbôa
Com ordem superior,
E dali a pouco tempo
Entramos para o vapor.
Eu ao ir para aquele monstro
Só me vingava em dar ais.
- Onde vieram espetar
Com o desgraçado do Palhaes!
***
Nisto chama-me um marujo:
- «Venham, não tenham preguiça»
Quando me espetam nas mãos
Com um colête de cortiça.
Mas isto que «bem assêr»
Com estas fitas compridas?
Responde logo o marujo:
«Isto é o salva vidas».
E ponha-o já no peito
Depressa, não seja teimoso,
Que vamos atravessar
Um sítio muito prigoso.
Ao ouvir aquelas frases,
Deu um salto meu coração...
Lá vai a Palhaes passar
Ao buxo dum tubarão.
***
Um gritava: ai minha mãe,
Não a torno a ver mais!
E eu de mim só dizia:
Ai desgraçado Palhaes!
Mas um dos meus camaradas
Portou-se um heroi e soldado...
Apresentou-se na prôa
Com a muchila equipado!
Lembrava-se o herói soldado
Que podia ser punido
Se morresse afogado
Sem o que lhe tinham distribuído.
Outro torna para traz:
«Que tal está minha cabeça...
Já deixava o cantil,
A mais a pá picareta.»
Chegado a França, as dificuldades adensam-se, mas o seu bom humor tudo lhe permite ir superando:
Tornamos a saltar em terra.
Eu, com a barriga vasia,
Dirigi-me a um Estaminet
A preguntar o que havia.
Pedi trigo á portugueza.
Nem trigo nem brôa vi.
Responde-me uma cachopa:
- Meu garçon eu não cumpri.
Tornei a entrar no comboio
Com a barriga a latejar
- Ai desgraçado Palhaes!
Onde vieste parar!
Desconsolo no ventre, mas também na "cama", que o espera na primeira noite de acantonamento:
Numas pequenas cortelhas,
Foi os nossos aposentos,
Aonde viviam cabras,
Rècos, e alguns jomentos!
Um molhito de palhuço
Foi-nos servindo de colchão,
Para assim encobrir
Que se dormia no chão.
Mas é na frente que tudo acontece: o trágico e o cómico; o heróico e o brejeiro. Sobre a "madmoázel" que um seu camarada seduz (ou que por ela é seduzido), diz "O Palhaes" poeta:
Era formosa e bonita,
Lá isso não faltava nada:
Tinha 24 anos
E já era desdentada.
Então o alferes médico
Mandou chamar o rapaz,
Perguntando-lhe se estava
Adiantado o fatacaz
E responde o pobre Magála,
Cheio de medo e tormento:
- «Mal cheguei a esta terra
Entrei logo cá p’ra dentro».
[Sobre o termo “fatacaz”, o organizador do “Arquivo” diz-nos que, por uma questão de pudor, algumas expressões tiveram de sofrer modificações…]
De tudo se fala, até (e principalmente) das aflições do soldadinho português nos confrontos com um inimigo bem mais poderoso e aguerrido:
Que horas tão aflictas,
Quando cahe a morteirada,
E granadas de artilharia,
E granadas de espingarda.
Ó que terriveis momentos
A que se havia de chegar!...
Quando cahe um rapasito,
Anda tudo por o ar.
Eu já me vi num assunto...
O meu rabo era o duma agulha...
Foi quando fui escalado
Para fazer uma patrulha.
Enfim, uma autêntica história trágico-marítima-terrestre, em que se expressa muito do que éramos em 1917, do que ainda somos, e talvez do que nunca deixaremos de ser. Enfim, um poema que nos devolve algo do que é essencial à definição da nossa identidade enquanto nação, enquanto povo – enquanto alma...