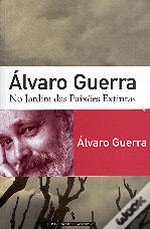Pintura de Abel Manta
O PRAZER DA LEITURA E OS MESTRES LIBERTADORES
«Sentado na borda do tanque, que uma figueira toldava de deleitável sombra, instruía-me o senhor padre Ambrósio da latinidade. Homem de muitas letras, já ruço, mas ainda de bom garbo nos seus setenta anos, sãos de alma e de corpo, antes de abrir Horácio, aprazia-lhe lembrar, num doce tom de iluminado:
-Nesta sítio, Libório, descansou o grande padre S. Francisco de jornada para Compostela. Reza a história que o servo de Deus vinha trilhado do caminho…» Assim começa a Via Sinuosa de Aquilino Ribeiro, um dos meus mais antigos mestres na arte da degustação literária.
Imaginem uma sala de uma casa na Beira, nos começos de 60 do século passado. Uma sala grande, teto em madeira com pranchas alternadas, duas janelas de guilhotina, semiabertas, e portadas interiores altas, meio cerradas contra a luz que vem da rua. Anda lá por fora um Agosto de brasa que até dói. Pelas ruas, àquela hora, poucos se atrevem. Num cadeirão de braços, com a luz coada, por detrás da cabeça para que não falte nas páginas, vou-me embrenhando pelo romance de Aquilino Ribeiro. Ou nas aventuras e desventuras de Libório Barradas, filho dos caseiros do Convento de Caria, mais tarde de S. Francisco, a iniciar-se no latim do padre Ambrósio, sem “amado mestre”, e nos amores, castos de Celidónia, uma das filha dos Violas, e nos pecaminosos, com Dona Estefânia, esposa do Malafaia, diplomata, do solar de Santa Maria das Águias. É aquela edição que foi imagem de marca da sua obra: capa creme, sem ilustração, badanas com informação discreta, formato de 15x20, frontispício austero. Tipo equilibrado, talvez “Times”, bem impresso, página folgada para a mancha de texto, margens largas, enfim uma edição que, sem ser de luxo, e afora o papel, que envelheceu mal, era muito digna e bem feita, boa de ler e de manusear, honrando os tipógrafos e a editora Bertrand.
São as férias grandes, os dias são enormes, tenho o tempo todo por minha conta e eu posso alongar-me por aquelas páginas, saborear as palavras, mesmo quando as não compreendo e tenho que reler, viajar por lugares, pessoas, acontecimentos e paisagens daquele Portugal profundo, nesse tempo ainda vivo. É o que se chama o prazer puro da leitura, o literário na sua especificidade verbal, que ninguém como Aquilino consegue dar, com ritmo próprio, sabor único, cor pessoal, enfim, a qualidade soberana dos seus textos, intraduzíveis noutras linguagens estéticas. E, portanto, a sensação estimulante de entrar num português da melhor água, e num processo em cadeia de que intuo a grandeza, e de que beneficio, apesar de ser o elo mais fraco: eu, pela mão de Aquilino, este, à sombra do seu bom padre-mestre, por sua vez na esteira de Horácio, Catulo, Cícero e de muito da cultura antiga que o enriqueceu e de que os seus livros tanto beneficiaram.
Dessas lições da juventude Aquilino guardou toda a vida uma devoção e um amor pelo seu «amado mestre», ou pelo «senhor padre-mestre», como sempre o designava, que chega a comover-nos. Não só na Via sinuosa, mas também em Uma luz ao longe e em Lápides partidas são muitas as ocasiões em que ele se refere, com respeito e profunda amizade, quase veneração, a quem lhe deu as bases da formação e do gosto.
E que depois continuou no Colégio Roseira, em Lamego, onde, segundo um belo texto evocativo do livro Arcas encoiradas, «aprendeu a ser gente». Aquilino Ribeiro, que em Lisboa se embrenhou nas ações republicanas contra a Monarquia e os Braganças, em atos mais ou menos revolucionários, é preso por posse de dinamite, consegue evadir-se, emigra, enfim, entra numa linha de aventuras mais ou menos rocambolescas e algo românticas.
Mas, passados anos, a evocação que fez dos seus primeiros professores, o seu “amado mestre”, ainda em casas dos pais, na Casa dos Terceiros do convento de S. Francisco, e depois os professores do Colégio de Lamego, chegam a comovedor, pelo que neles reconhece de qualidade humana, cultural e até científica (na matemática, por exemplo). Do professor de Matemática diz ele: «dos meus professores é o de matemática, Alfredo Vieira Cardoso, pequenino de corpo, mas de inteligência tão lúcida como discursiva, que conservo a mais grata lembrança. O jogo dos números com ele tornava-se uma prática agradável de compreensão, pelo que, não me acobardo de dizer, foi a claridade do seu pensamento, conjugado como rigor da linguagem algébrica, que me ensinou a pensar».
Pintura de Artur Bual
O que nos leva a reconhecer, mais uma vez, como se fosse preciso, o valor dessas tríades educativas hoje desvalorizadas, mas indispensáveis: um bom mestre, a qualidade do aluno e um ambiente que favorece a aprendizagem e a assimilação de valores sólidos. Que depois podem ser revistos e reformulados e até alterados em aspetos menores ou periféricos, mas que se mantêm para toda a vida no que diz respeito ao essencial. Ali, naquele colégio, e sobretudo pela ação de alguns professores, diz ele, «aprendi ainda a ser livre e a amar a liberdade, uma vez que nas próprias disciplinas em que bebia a ciência dos valores e das proporções, conforme a definição de Descartes, se me iam desenvolvendo as faculdades do raciocínio e da positividade, imunizadoras do indivíduo em matéria de preconceito».
São páginas de evocação respeitosa e até doce de vários professores desse colégio – quase todos padres. E é curioso como um homem que depois foi um declarado inimigo do regime salazarista, crítico da cleresia, muitas vezes de modo ácido, estrangeirado arejado e vivido, mantenha, muitos anos depois, o reconhecimento da qualidade humana e em muitos casos científica e cultural daqueles esquecidos clérigos do remoto colégio de Lamego, nos princípios do século XX.
«Esta colégio impunha-se como estabelecimento admirável e quero confessar que as minhas rémiges, pequenas como são, cresceram ali à medida do seu porte e do seu tamanho natural. Ninguém mas aparou nem se armou de tesouras para o fazer. Também não me contrafizeram a alma à mentira e à hipocrisia. Honra lhes seja. Saíamos direitos com aprumo ibérico…».
E quanto ao ambiente social, é também interessante ler o que diz de um colégio de padres no Lamego «afonsino» de 1900, dirigido pelo discreto e «modestíssimo» padre Alfredo: «No colégio não se cultivavam fanatismos, nem forneciam títulos a precedências, fidalguias ou altitudes sociais. Era um internato são e democrático. Mas também não se anarquizava ninguém. Deixavam a personalidade vingar no seu vero ser. Ao sabor da tradição, sem a planta dar conta».
Ao ler isto apanho-me a pensar, com alguma perturbação, no quanto todos nós, afinal, ficamos a dever a esses obscuros mestres do interior profundo de um Portugal perdido no tempo e na geografia, uma vez que foram eles que lançaram os caboucos dessa extraordinária herança que deixou à cultura e à literatura portuguesa a obra de Aquilino. Homem sólido, no verdadeiro sentido da palavra, mas com sensibilidade bastante para apreender a variedade do mundo e dos homens e capacidade suficiente para transformá-la em formas de grande beleza, por si só a sua obra fala dos seus educadores, ou, pelo menos, de alguns. Trabalho que não funcionou só com ele mas também com muitos dos seus colegas, como ele próprio reconhece no mesmo texto.
Uma boa educação não dispensa os grandes modelos e os elevados exemplos. Como diz Georges Gusdorf, nesse excelente livro que é o Professores, para quê? «o verdadeiro mestre reconhece-se a si mesmo como servidor e discípulo da verdade; convida os seus alunos a procurá-la pelo seu lado e segundo os seus próprios meios». Se alguma dúvida houvesse Aquilino Ribeiro, cuja obra há de sobreviver a marés e marinheiros, é disso um caso exemplo.
JOÃO BOAVIDA